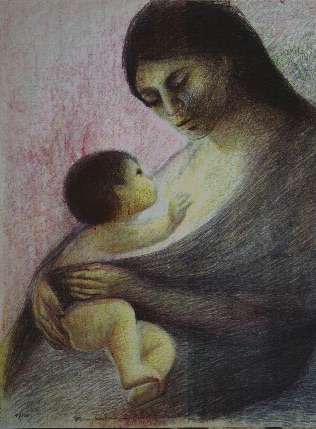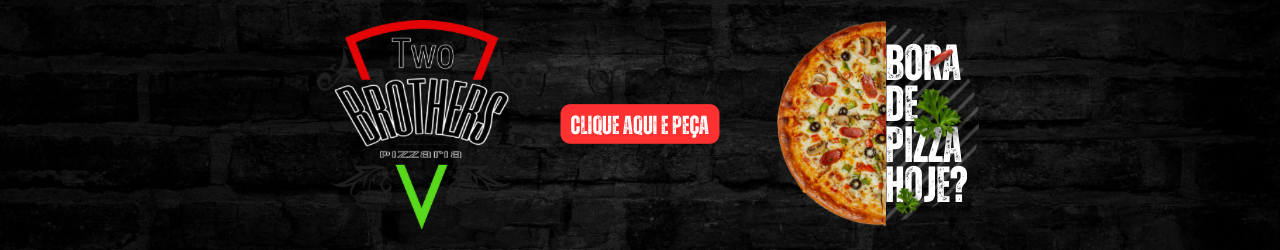A maternidade ainda é vista como um obstáculo no mercado de trabalho, especialmente em ambientes acadêmicos e científicos, onde a produtividade é medida por publicações e prazos rígidos. Para muitas mulheres, ser mãe equivale a carregar um fardo institucional, como se a escolha de gerar uma vida automaticamente significasse a renúncia às ambições profissionais. No Brasil, não faltam exemplos de pesquisadoras que tiveram bolsas negadas ou interrompidas devido à gravidez ou licença-maternidade, deixando claro que, para o sistema, a mãe pesquisadora é um ser incompatível.
A recente negativa de bolsas científicas devido à maternidade expôs uma ferida aberta na produção acadêmica nacional: a misoginia institucionalizada. Para as agências de fomento, ser produtiva não admite pausas, mesmo que sejam para cuidar de um recém-nascido. Essa política é um convite ao apagamento das mulheres da pesquisa científica, uma escolha que afasta cérebros femininos enquanto reafirma a presença majoritariamente masculina nos espaços acadêmicos. Afinal, para uma mãe cientista, a maternidade pode custar um projeto de vida inteiro.
Em termos internacionais, o contraste é evidente e vergonhoso. A Noruega, por exemplo, concede até 56 semanas de licença-maternidade remunerada, enquanto os Estados Unidos, ironicamente uma das maiores potências científicas do planeta, sequer garantem licença remunerada nacionalmente, deixando tudo nas mãos do empregador. No Brasil, com seus 120 dias obrigatórios e 180 para empresas cidadãs, parece que estamos à frente. Mas basta olhar de perto para ver que o problema é muito mais complexo. A licença-paternidade, limitada a cinco dias, perpetua a ideia absurda de que o cuidado com os filhos é exclusivo da mãe. Essa lógica patriarcal não só sobrecarrega as mulheres, mas também aprisiona os homens em papéis restritivos, mantendo as estruturas familiares e profissionais engessadas e arcaicas.
Na arte, as reflexões sobre maternidade e trabalho aparecem com força. O filme brasileiro “Mar de Dentro” (2022), de Dainara Toffoli, retrata com crueza a luta de uma publicitária que, ao engravidar, é sufocada pelas expectativas profissionais e familiares. A protagonista se vê dividida entre a pressão de ser produtiva e a necessidade visceral de ser mãe — um drama que ecoa a realidade de inúmeras mulheres. Já o documentário “Mãe Solo” (2021), de Camila de Moraes, coloca luz sobre as batalhas diárias das mães solteiras nas periferias de Salvador, mostrando como a maternidade, para além de uma escolha, é também um desafio político e social.
Nas artes visuais, a maternidade também é abordada com densidade e crítica. A série de fotografias “Mother” (2016), da artista russa Jana Romanova, expõe casais grávidos em situações cotidianas, criando um contraste entre a serenidade da espera e o caos da vida familiar. Em outra perspectiva, a obra “La Maternidad” (1980), da mexicana Fanny Rabel, explora a exaustão e a solidão materna, desafiando a visão romantizada da maternidade que o discurso hegemônico insiste em perpetuar.
A literatura também não deixa a maternidade passar despercebida. No livro “Maternidade” (2018), de Sheila Heti, a autora destrincha o dilema da escolha entre ser mãe ou priorizar a carreira, jogando luz sobre a pressão imposta às mulheres para que se tornem mães como se fosse uma obrigação existencial. Em uma passagem do livro, Heti expõe uma grande ferida geracional:
“Minha mãe chorou por quarenta dias e quarenta noites. Desde que a conheço, a conheço como alguém que chora. Eu pensava que, quando crescesse, eu seria um tipo de mulher diferente, que não iria chorar, e que resolveria esse problema do choro dela. Ela nunca pôde me contar qual era o problema, apenas dizia eu estou cansada. Será possível que ela estivesse sempre cansada? Eu me perguntava, quando era criança, será que ela não sabe que é infeliz? Eu achava que a pior coisa do mundo era ser infeliz sem saber. Conforme fui crescendo, passei a procurar obsessivamente por sinais de infelicidade em mim mesma. Então eu também me tornei infeliz. E cresci cheia de lágrimas.“
O que se verifica é que essa mesma cobrança social não é equivalente para os homens. A paternidade não é tratada com o mesmo peso simbólico e profissional pois há uma cultura de que os homens são provedores do lar e as mulheres devem ser relegadas à função doméstica, tipicamente para cuidar dos filhos, fazendo-as serem excluídas, historicamente, do mundo profissional e acadêmico.
Não se está aqui a dizer que a escolha conservadora é errada. Mulheres devem decidir qual caminho trilhar, se o de cuidar do lar e dos filhos, o caminho da não-maternidade, ou ainda, o caminho de conciliar a maternidade com os desafios da cultura organizacional que as vê como um produto mal calculado do capitalismo, que vê empecilhos na maternidade para conciliar profissão com educação filial.
A sociedade insiste em romantizar a maternidade enquanto fecha os olhos para as barreiras que ela impõe. Não há nada de belo ou glorioso em ser preterida por ter um filho, em perder oportunidades acadêmicas ou em ser rotulada como menos competente. Enquanto políticas públicas continuarem tratando mães como cidadãs de segunda classe, estaremos longe de qualquer ideia de igualdade. E a arte, com sua capacidade de provocar e incomodar, seguirá expondo essas contradições, como um espelho incômodo que nos obriga a ver a realidade sem filtros.
Chega de discursos que exaltam a “mãe guerreira” enquanto perpetuam sua exclusão. É urgente a criação de políticas de suporte para mães que trabalham, que estudam, que pesquisam. Que a maternidade deixe de ser vista como um problema e passe a ser tratada como uma parte natural da vida — digna de respeito e apoio. Porque mães são profissionais, cientistas, artistas — e não um estorvo a ser gerido pelas instituições.